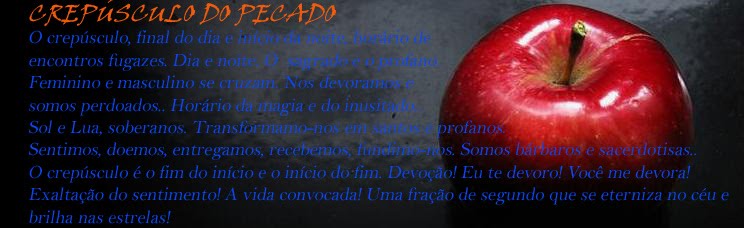Diana, a caçadora, afresco, autor desconhecido, século I a.C.
As amazonas pertencem ao domínio da transgressão. Essas guerreiras mitológicas simplesmente desprezavam os valores femininos vigentes na Antiguidade. Por isso, os gregos as viam como um desafio a qualquer “lei natural” ou social. Mais ainda, como um mal encarnado e ambíguo, que causava repulsa e, ao mesmo tempo, seduzia os homens. De fato, elas tinham em si uma centelha revolucionária, capaz de virar pelo avesso todas as certezas da sociedade grega.
No mundo real, a mulher era sempre um ser menor, e sua função essencial era parir os futuros cidadãos da Grécia. O homem e a mulher eram complementares, mas sua natureza, de acordo com a vontade dos deuses, era essencialmente diferente, daí serem considerados unicamente viris o trabalho no campo, a caça, o treino desportivo e a guerra. Por extensão, as gregas também eram alijadas do poder político.
As virtudes femininas eram a obediência e o pudor. Um texto de Aristóteles evoca bem o modo como os gregos justificavam pela ordem natural as relações entre sexos e define por antítese o que seria impossível para a mulher: “A natureza criou um sexo forte e um sexo frágil. O primeiro, em razão da sua virilidade, está mais apto a afastar os adversários, o segundo está mais apto a realizar-se sob a guarda masculina, devido a uma tendência natural para o medo. O primeiro traz para o domicílio os bens do exterior, o segundo vela sobre o que está em casa”.
O texto prossegue da seguinte forma: “Na divisão do trabalho, o primeiro, menos afeito ao descanso, encontra prazer no movimento. O segundo está mais apto a levar uma vida sedentária e não tem forças suficientes para a vida ao ar livre. Enfim, se os dois sexos participam na geração das crianças, o bem destas últimas irá exigir de cada um dos pais um papel particular: a mulher terá a função de alimentá-las, o homem, a de educá-las”.
A amazona é aquela que recusa essa distribuição de competências, pois pura e simplesmente eliminou os homens de sua estrutura política e social. Na Ilíada, essas guerreiras são chamadas por Homero de antianeira (anti-homem). O prefixo grego anti, nesse caso, pode ter o sentido de “contra” o homem, mas também de “igual” a ele.
Representadas sempre como guerreiras e caçadoras, desde pequenas montavam cavalos (com as pernas abertas) e aprendiam a manejar o arco, o dardo, a espada e o machado de combate. Para atirar melhor, elas cauterizavam (ou cortavam) o seio direito, o que, para Hipócrates, “desloca toda a força e desenvolvimento para o ombro e braço”.
O nome das fabulosas criaturas vem dessa prática: a-mazos significa “sem seio”. Por alguma razão, porém, a iconografia disponível costuma mostrá-las com os dois seios intactos. Além do significado prático, a mutilação do seio tem um aspecto simbólico: elas permaneciam mulheres pelo lado esquerdo e tornavam-se homens pelo direito.
As guerreiras veneravam Ártemis, que, como elas, habitava os espaços selvagens, recusava a sociedade dos homens e dedicava seus dias à caça. Os relatos antigos sobre esses lendários seres informam que sua sociedade era dividida geralmente em duas tribos, cada qual com sua rainha. Enquanto uma estava ocupada com a guerra, a outra permanecia sedentária, para proteger seu povo. Sua hipotética “cidade” chamava-se Themiscrya, situada além do mar Negro, às margens do rio Termodonte.
As amazonas podiam fazer longínquas incursões. São atribuídas a elas invasões na Ásia Menor e na Grécia. Em uma delas, Myrina, à frente de 20 mil guerreiras a cavalo e 3 mil a pé, declarou guerra aos habitantes de Atlântida, tomou conta da cidade, massacrou os homens prendeu mulheres e crianças. Elas eram temidas por andarem armadas e em bandos, mas também porque, não aceitando a presença de homens em seu meio, acasalavam como os animais, desprezando as regras do casamento entre humanos. Uma vez por ano, se entregavam aos povos vizinhos e obrigavam os homens a ter relações com elas. Tudo acontecia aleatoriamente, na escuridão, de modo que não pudessem reconhecer seus parceiros. Eram elas que violentavam e “usavam” os homens.
Quando nasciam as crianças, conservavam as meninas e matavam os meninos. Recusavam-se a amamentar as filhas, com medo de deformar os seios, e criavam-nas com leite de égua.
Não conheciam a navegação nem a cultura dos cereais – daí vem a outra etimologia proposta para seu nome, a-maza também quer dizer “sem cevada”. Alimentavam-se de carne crua.
Aventuras pela História e pela literatura
Para os gregos, as amazonas não pertenciam apenas ao domínio da lenda. Muitos escritores procuraram emprestar fundamentos históricos às aventuras das guerreiras anti-homens.
Heródoto consagrou-lhes inúmeros capítulos da obra Investigações. Segundo ele, quando os gregos conduzidos por Hércules voltaram para tomar o cinturão de Hipólita, trouxeram amazonas como prisioneiras. Elas reagiram em dado momento, mataram-nos e jogaram os corpos no mar.
Ignorando tudo o que dizia respeito a navios e navegação, as mulheres deixaram então que a embarcação seguisse à deriva até encalhar no território dos citas, que viram no episódio uma ameaça de invasão. Partiram para o ataque, até perceber que os “inimigos” eram mulheres. Decidiram, então, “domesticá-las”, para gerar filhos corajosos. As amazonas aceitaram se unir aos jovens citas, mas logo tomaram as rédeas da coabitação: eles foram obrigados a deixar seu país e suas famílias para acompanhá-las até suas terras.
As amazonas foram reencontradas em textos históricos posteriores. Por três vezes, entre 331 e 324 a.C., os exércitos de Alexandre, o Grande, encontraram as guerreiras. Sua rainha, Talestris, foi ao encontro do rei macedônio e passou 13 noites com ele.
Em 63 a.C., o general romano Pompeu, perseguindo o rei Mitridates, chegou ao pé das montanhas do Cáucaso, onde enfrentou os albaneses. Após o combate, encontrou sobre o campo de batalha escudos leves e sandálias femininas. De acordo com algumas fontes, entre os prisioneiros de guerra encontravam-se inúmeras mulheres que, por falta de termo melhor, os romanos chamaram de amazonas.
Nestes dois últimos exemplos, há uma grande distância entre as mulheres-soldados e as lendárias amazonas. Mas, penetrando em terras distantes, onde mal conheciam os povos e costumes, os ocidentais enfrentaram exércitos locais em que as mulheres combatiam como os homens – por falta de outra referência, gregos e romanos viram nelas a encarnação das guerreiras mitológicas.
Na literatura, as amazonas foram protagonistas de algumas histórias imortais. Em uma delas, Teseu, tendo acompanhado Héracles (ou Hércules) em sua expedição até o reino das guerreiras, foi seduzido pela beleza de uma delas, Antíope. Sob o pretexto de lhe mostrar seu navio, ele a levou a bordo e zarpou imediatamente rumo a Atenas.
Furiosas com o rapto, as amazonas atacaram a cidade tempos depois. Teseu conseguiu convencer seus compatriotas a enfrentar o temível exército feminino, e começou uma batalha aos pés da colina de Pnyx. No começo, elas levaram vantagem e perseguiram os adversários fora dos muros de Atenas. Depois os homens adquiriram vantagem e venceram a guerra. Antíope morreu atravessada por um dardo durante o conflito. Ela tivera tempo de dar a Teseu um filho, Hipólito, que herdou da mãe o gosto pela caça e era muito casto. – C. S.