Ulisses e as sereias - Herbert Draper
POESIA SE ALIA À MÚSICA E À DANÇA (André Malta Campos)
Uma Leitura de Homero - Sir Lawrence Alma-Tadema, 1885
Os primeiros registros da produção poética dos gregos antigos apareceram nos séculos VIII e VII a.C., com a reintrodução da escrita, agora alfabética e apta à notação complexa dos sons. É a partir desses registros que estudamos a literatura grega, embora, naturalmente, algum tipo de sistema literário já estivesse configurado, com a presença de emissores, de um lado, e receptores, de outro, ambos os grupos inseridos numa longa e rica tradição, que remontava ao segundo milênio antes da nossa era. Foi a escrita, entretanto, que possibilitou - a princípio, timidamente, e depois, decisivamente - a conversação, a transmissão e a difusão de uma pequena parcela desse enorme material, à qual hoje temos acesso.
Qual era o quadro geral da literatura produzida pelos gregos, por quem e para quem ela era criada e em que contextos? Em relação ao período anterior ao século V - mais bem documentado, pelo menos no que diz respeito a Atenas -, sabemos muito pouco para responder com relativa certeza a tais questões. De toda essa produção, que era, sobretudo, de poesia, conservou-se aquilo que era feito para perdurar, o que tinha forma e função perenes. Já os possíveis registros em letra de outras formas de expressão (inclusive poéticas) foram se perdendo, muitos deles ao longo do caminho, o que nos obriga a uma boa dose de investigação e imaginação.
Sabemos seguramente que a poesia grega antiga pertenceu a uma época em que a palavra era indissociável do canto e da dança. A escrita, ainda que existente, desempenhava papel secundário. Uma cultura de livros, escritores e leitores é impensável nesse contexto, porque a técnica da escrita demando esforço e tempo de familiarização, além da disponibilidade de materiais e suporte adequados, com seu manuseio por copistas interessados. E, uma vez superados esses obstáculos, devemos nos perguntar com que finalidade um grego pensaria em apresentar por escrito seu trabalho ou o trabalho alheio, se a voz era o meio de comunicação mais eficiente e apreciado. Se hoje, para nós, a autoridade provém em grande parte do domínio da palavra escrita, na Grécia Antiga, ao contrário, a autoridade máxima era a autoridade da palavra emitida sem auxílio da notação gráfica, mas da palavra desempenhada. Na prática, isso implica dizer que na Grécia Antiga, como em outras culturas ágrafas ou orais, na maioria das vezes a situação da produção, da emissão e da recepção literária se confundiam num só momento, com a voz se aliando ao gesto e à música para criar um ambiente de envolvimento e suspensão.
O arrebatamento, nesse contexto, não é consequência da expressão nova e pessoal, que fascina aquele que procura o ainda não ouvido. O envolvimento se faz pela satisfação da regra e do costume - ainda que cada desepenho seja único e iniigualável, e, portanto, possa ser considerado sempre novo. Trata-se assim, de uma literatura oral tradicional, com parâmetros principais pré-estabelecidos, que asseguram a imediata comunicação. Mais do que isso, essa literatura - como as demais literaturas, em culturas afins - almeja ter um papel claro dentro da comunidade, para a qual se volta de bom grado, sem se importar com a confissão íntima, tão mais valiosa quanto mais pessoal. Nesse sentido, podemos falar sem medo em literatura social, porque é feita pensando-se no coletivo, transmitida na presença de grupo e voltada para os anseios e preocupações da comunidade. A noção de autoria não faz muito sentido numa cultura assim, porque é o legado comum, colocado à disposição de todos, que a molda e a torna característica. Nesses grupos, do mesmo modo, ainda que a fruição solitária de uma peça literária fosse possível, ela certamente não era desejável, porque essa peça fora feita para uma apresentação pública, trazendo marcas às vezes muito claras dessa preocupação com o patrimônio comum.
É com essas considerações iniciais em mente que devemos analisar a produção literária grega - basicamente poética - entre o começo do século VIII e o início do V, que denominamos convencionalmente de período arcaico, pois, do ponto de vista teleológico, é o que procede o período clássico, correspondente aos séculos V e IV a.C. No período arcaico dois gêneros de destacam - o épico e o lírico - sem que possamos determinar nenhuma relação de anterioridade entre eles: os dois certamente se enraízam em uma época bastante remota e tiveram um longo desenvolvimento que não recebeu registro, uma vez que a civilização micênica, que dominou essa região do Mediterrâneo entre os séculos XVI e XII a.C., desapareceu levando consigo sua escrita silábica, chamada linear B, deixando a Grécia iletrada por mais de três séculos. Nesse silabário mesmo, decifrado no século passado, temos apenas anotações administrativas, sem importância literária.
A épica se caracteriza, em linhas gerais, pela narrativa extensa e em tom elevado, cuja ação se situa num tempo passado e indeterminado, que tem valor de princípio. O elementos dramático recebe em geral grande destaque, e à figura do narrador onisciente se juntam as inúmeras falas dos personagens, humanos e divinos. O metro adotado é o de seis pés, intitulado hexâmetro, longo e solene, e a articulação das frases é paratática, sem grandes torneios sintáticos. Os principais nomes nesse gênero são os de Hesíodo e Homero, a quem foram atribuídas na Antiguidade - principalmente ao primeiro - uma série de epopéias, muitas delas perdidas. Hoje, de modo consensual, são consideradas de Homero a Ilíada e a Odisséia (alguns poucos estudiosos postulam autorias diferentes), que totalizam quase 28 mil linhas, e de Hesíodo a Teogonia e Os trabalhos e os dias, bem menos extensos: juntos não somam mais de 2 mil versos.
A lírica grega, ao contrário da épica, é marcada por uma grande diversidade, temática e formal. Com relação ao seu conteúdo, podemos dizer, em linhas geraiss, que ela se pauta por uma forte relação com a atualidade, constratando assim com o afastamento temporal característico da maior parte da epopéia. Ao mesmo tempo, o gênero se deixa impregnar por um elemento dramático às vezes não desprezível (inclusive do passado), e adota em vários momentos o caráter reflexivo que é traço importante da poesia homérica e hesiódica. Parte dessa poesia também se volta pra o registro baixo, exercitando-se no mal-dizer, na sátira e na paródia. Certo é que, na extensão, o poema lírico tende à brevidade, embora - nos casos narrativos - pudesse chegar a algumas centenas de versos. Os metros são inúmeros, do austero elegíaco (primo irmão do épico) aos mais populares e rápidos jambo e troqueu, sem mencionar aqueles abertamente melodiosos, próprios da canção festiva, composta para a apresentação solo ou em coro, e que recebia nome conforme a situação a que se destinava. A transmissão direta desses poemas e, com algumas exceções, o que temos à disposição são fragmentos - composições que nos foram transmitidas parcial e indiretamente por outros autores, ou que vamos conseguindo desenterrar, já em estado precário. Os principais nomes são os de Arquíloco, Safo e Píndaro.
Toda essa produção não era composta numa única língua uniforme. Desde cedo os gregos se acostumaram a associar certo tipo de poesia a um dialeto específico. Assim, a poesia épica era composta predominantemente em jônico, um dialeto falado na parte central da costa da Ásia Menor (atual costa turca); a poesias lírica, se escrita em metro elegíaco, seguia também o uso do jônico, assim como o faziam o jambo e o truqueu: a poesia coral era falada majoritariamente no dialeto dórico, de Esparta e outras regiões de colonização dória, ao sul; e outra parte da lírica era composta em dialeto eólico, característico da ilha de Lesbos e vizinhanças, na região nordeste do Mar Egeu. O local de nascimento, portanto, não determinava o dialeto em que o compositor iria fazer seus poemas, e as diferenças não atrapalhavam a compreensão e a interação entre os falantes do grego. Com o crescimento do poderio de Atenas, no século V, o dialeto ático (uma evolução do jônico) se estabeleceu como língua literária e acabou sendo empregado por tragediógrafos como Sófocles (nas partes faladas das peças, e não nas cantadas), por oradores como Demóstenes e por filósofos como Platão e Aristóteles.
Para além dos temas e dos fins específicos, que visão de mundo nos apresenta toda essa produção literária que se estende do século VIII ao V? O elementos essencial é a presença do mito, tomado não no sentido de história fantástica ou pitoresca, mas num sentido anterior e mais profundo, em que expressa uma visão de linguagem - potente e iluminada, dom da divindade - e daquilo que ela tem o poder de iluminar, as relações entre os homens e os deuses. Sendo assim, podemos dizer que os temas de que tratam os poetas sempre nos remetem, de maneira mais ou menos direta, a uma compreensão muito particular do uso da palavra poética e do mundo em que vivem. Essa palavra não pertence originalmente ao homem, mas lhe é conferida, como dádiva, pelas musas, as deusas do canto e da dança, filhas de Zeus e de Rememoração - filhas, portanto, do poder ordenador supremo e da manutenção da tradição viva.
Essa relação entre musa e cantor, por sua vez, exemplifica a maneira pela qual são vistas todas as relações no mundo: como relações entre homens e deuses. É nesses termos, portanto, que são trabalhados os temas abordados pelos poetas - não através da interiorização, da abstração conceitual, mas por meio da exteriorização e do exame das imagens concretas, que sinalizam o mode de agir dos deuses. Por isso não é possível ler esses poemas sem esbarrar ora na figura de um deus, ora na reflexão sobre a condição divina, ora na indagação sobre as relações entre as divindades e os homens, ora ainda na afirmação pessimista sobre o estatuto humano. Mesmo quando se fala sobre os homens apenas, a presença divina está embutida nessa fala, assim como um poema sobre os deuses fala diretamente ao homem em sua vida cotidiana. Pode-se dizer então, em resumo, que qualquer que seja o assunto central do poema, ele virá sempre enquadrado por esse modo de pensar que enxerga o mundo - o modo mítico -, porque é modo de pensar e enxergar o mundo que preside à própria confecção e enunciação do poema.
Oralidade, tradição, inserção social, distinção não muito clara entre gêneros, diversidade dialetal, formulação mítica: podemos enumerar assim as características principais da literatura grega pré-clássica, que repartimos de modo muito simplificado entre épica e lírica, e que, avessa à escrita, só chegou a nós por causa da escrita que com razão desprezou. Por meio desses seis traços principais podemos perceber com que diferença temos acesso hoje à poesia grega - lendo-a, e lendo-a como "literatura", classificando-a, traduzindo-a, interpretando-a racionalmente. O exame mais detalhado dos gêneros e de algumas obras só faz aumentar essa consciência do processo histórico, ao mesmo tempo em que reforça, para nós, a permanência de muitas das formulações poéticas feitas pelos gregos.
Qual era o quadro geral da literatura produzida pelos gregos, por quem e para quem ela era criada e em que contextos? Em relação ao período anterior ao século V - mais bem documentado, pelo menos no que diz respeito a Atenas -, sabemos muito pouco para responder com relativa certeza a tais questões. De toda essa produção, que era, sobretudo, de poesia, conservou-se aquilo que era feito para perdurar, o que tinha forma e função perenes. Já os possíveis registros em letra de outras formas de expressão (inclusive poéticas) foram se perdendo, muitos deles ao longo do caminho, o que nos obriga a uma boa dose de investigação e imaginação.
Sabemos seguramente que a poesia grega antiga pertenceu a uma época em que a palavra era indissociável do canto e da dança. A escrita, ainda que existente, desempenhava papel secundário. Uma cultura de livros, escritores e leitores é impensável nesse contexto, porque a técnica da escrita demando esforço e tempo de familiarização, além da disponibilidade de materiais e suporte adequados, com seu manuseio por copistas interessados. E, uma vez superados esses obstáculos, devemos nos perguntar com que finalidade um grego pensaria em apresentar por escrito seu trabalho ou o trabalho alheio, se a voz era o meio de comunicação mais eficiente e apreciado. Se hoje, para nós, a autoridade provém em grande parte do domínio da palavra escrita, na Grécia Antiga, ao contrário, a autoridade máxima era a autoridade da palavra emitida sem auxílio da notação gráfica, mas da palavra desempenhada. Na prática, isso implica dizer que na Grécia Antiga, como em outras culturas ágrafas ou orais, na maioria das vezes a situação da produção, da emissão e da recepção literária se confundiam num só momento, com a voz se aliando ao gesto e à música para criar um ambiente de envolvimento e suspensão.
O arrebatamento, nesse contexto, não é consequência da expressão nova e pessoal, que fascina aquele que procura o ainda não ouvido. O envolvimento se faz pela satisfação da regra e do costume - ainda que cada desepenho seja único e iniigualável, e, portanto, possa ser considerado sempre novo. Trata-se assim, de uma literatura oral tradicional, com parâmetros principais pré-estabelecidos, que asseguram a imediata comunicação. Mais do que isso, essa literatura - como as demais literaturas, em culturas afins - almeja ter um papel claro dentro da comunidade, para a qual se volta de bom grado, sem se importar com a confissão íntima, tão mais valiosa quanto mais pessoal. Nesse sentido, podemos falar sem medo em literatura social, porque é feita pensando-se no coletivo, transmitida na presença de grupo e voltada para os anseios e preocupações da comunidade. A noção de autoria não faz muito sentido numa cultura assim, porque é o legado comum, colocado à disposição de todos, que a molda e a torna característica. Nesses grupos, do mesmo modo, ainda que a fruição solitária de uma peça literária fosse possível, ela certamente não era desejável, porque essa peça fora feita para uma apresentação pública, trazendo marcas às vezes muito claras dessa preocupação com o patrimônio comum.
É com essas considerações iniciais em mente que devemos analisar a produção literária grega - basicamente poética - entre o começo do século VIII e o início do V, que denominamos convencionalmente de período arcaico, pois, do ponto de vista teleológico, é o que procede o período clássico, correspondente aos séculos V e IV a.C. No período arcaico dois gêneros de destacam - o épico e o lírico - sem que possamos determinar nenhuma relação de anterioridade entre eles: os dois certamente se enraízam em uma época bastante remota e tiveram um longo desenvolvimento que não recebeu registro, uma vez que a civilização micênica, que dominou essa região do Mediterrâneo entre os séculos XVI e XII a.C., desapareceu levando consigo sua escrita silábica, chamada linear B, deixando a Grécia iletrada por mais de três séculos. Nesse silabário mesmo, decifrado no século passado, temos apenas anotações administrativas, sem importância literária.
A épica se caracteriza, em linhas gerais, pela narrativa extensa e em tom elevado, cuja ação se situa num tempo passado e indeterminado, que tem valor de princípio. O elementos dramático recebe em geral grande destaque, e à figura do narrador onisciente se juntam as inúmeras falas dos personagens, humanos e divinos. O metro adotado é o de seis pés, intitulado hexâmetro, longo e solene, e a articulação das frases é paratática, sem grandes torneios sintáticos. Os principais nomes nesse gênero são os de Hesíodo e Homero, a quem foram atribuídas na Antiguidade - principalmente ao primeiro - uma série de epopéias, muitas delas perdidas. Hoje, de modo consensual, são consideradas de Homero a Ilíada e a Odisséia (alguns poucos estudiosos postulam autorias diferentes), que totalizam quase 28 mil linhas, e de Hesíodo a Teogonia e Os trabalhos e os dias, bem menos extensos: juntos não somam mais de 2 mil versos.
A lírica grega, ao contrário da épica, é marcada por uma grande diversidade, temática e formal. Com relação ao seu conteúdo, podemos dizer, em linhas geraiss, que ela se pauta por uma forte relação com a atualidade, constratando assim com o afastamento temporal característico da maior parte da epopéia. Ao mesmo tempo, o gênero se deixa impregnar por um elemento dramático às vezes não desprezível (inclusive do passado), e adota em vários momentos o caráter reflexivo que é traço importante da poesia homérica e hesiódica. Parte dessa poesia também se volta pra o registro baixo, exercitando-se no mal-dizer, na sátira e na paródia. Certo é que, na extensão, o poema lírico tende à brevidade, embora - nos casos narrativos - pudesse chegar a algumas centenas de versos. Os metros são inúmeros, do austero elegíaco (primo irmão do épico) aos mais populares e rápidos jambo e troqueu, sem mencionar aqueles abertamente melodiosos, próprios da canção festiva, composta para a apresentação solo ou em coro, e que recebia nome conforme a situação a que se destinava. A transmissão direta desses poemas e, com algumas exceções, o que temos à disposição são fragmentos - composições que nos foram transmitidas parcial e indiretamente por outros autores, ou que vamos conseguindo desenterrar, já em estado precário. Os principais nomes são os de Arquíloco, Safo e Píndaro.
Toda essa produção não era composta numa única língua uniforme. Desde cedo os gregos se acostumaram a associar certo tipo de poesia a um dialeto específico. Assim, a poesia épica era composta predominantemente em jônico, um dialeto falado na parte central da costa da Ásia Menor (atual costa turca); a poesias lírica, se escrita em metro elegíaco, seguia também o uso do jônico, assim como o faziam o jambo e o truqueu: a poesia coral era falada majoritariamente no dialeto dórico, de Esparta e outras regiões de colonização dória, ao sul; e outra parte da lírica era composta em dialeto eólico, característico da ilha de Lesbos e vizinhanças, na região nordeste do Mar Egeu. O local de nascimento, portanto, não determinava o dialeto em que o compositor iria fazer seus poemas, e as diferenças não atrapalhavam a compreensão e a interação entre os falantes do grego. Com o crescimento do poderio de Atenas, no século V, o dialeto ático (uma evolução do jônico) se estabeleceu como língua literária e acabou sendo empregado por tragediógrafos como Sófocles (nas partes faladas das peças, e não nas cantadas), por oradores como Demóstenes e por filósofos como Platão e Aristóteles.
Para além dos temas e dos fins específicos, que visão de mundo nos apresenta toda essa produção literária que se estende do século VIII ao V? O elementos essencial é a presença do mito, tomado não no sentido de história fantástica ou pitoresca, mas num sentido anterior e mais profundo, em que expressa uma visão de linguagem - potente e iluminada, dom da divindade - e daquilo que ela tem o poder de iluminar, as relações entre os homens e os deuses. Sendo assim, podemos dizer que os temas de que tratam os poetas sempre nos remetem, de maneira mais ou menos direta, a uma compreensão muito particular do uso da palavra poética e do mundo em que vivem. Essa palavra não pertence originalmente ao homem, mas lhe é conferida, como dádiva, pelas musas, as deusas do canto e da dança, filhas de Zeus e de Rememoração - filhas, portanto, do poder ordenador supremo e da manutenção da tradição viva.
Essa relação entre musa e cantor, por sua vez, exemplifica a maneira pela qual são vistas todas as relações no mundo: como relações entre homens e deuses. É nesses termos, portanto, que são trabalhados os temas abordados pelos poetas - não através da interiorização, da abstração conceitual, mas por meio da exteriorização e do exame das imagens concretas, que sinalizam o mode de agir dos deuses. Por isso não é possível ler esses poemas sem esbarrar ora na figura de um deus, ora na reflexão sobre a condição divina, ora na indagação sobre as relações entre as divindades e os homens, ora ainda na afirmação pessimista sobre o estatuto humano. Mesmo quando se fala sobre os homens apenas, a presença divina está embutida nessa fala, assim como um poema sobre os deuses fala diretamente ao homem em sua vida cotidiana. Pode-se dizer então, em resumo, que qualquer que seja o assunto central do poema, ele virá sempre enquadrado por esse modo de pensar que enxerga o mundo - o modo mítico -, porque é modo de pensar e enxergar o mundo que preside à própria confecção e enunciação do poema.
Oralidade, tradição, inserção social, distinção não muito clara entre gêneros, diversidade dialetal, formulação mítica: podemos enumerar assim as características principais da literatura grega pré-clássica, que repartimos de modo muito simplificado entre épica e lírica, e que, avessa à escrita, só chegou a nós por causa da escrita que com razão desprezou. Por meio desses seis traços principais podemos perceber com que diferença temos acesso hoje à poesia grega - lendo-a, e lendo-a como "literatura", classificando-a, traduzindo-a, interpretando-a racionalmente. O exame mais detalhado dos gêneros e de algumas obras só faz aumentar essa consciência do processo histórico, ao mesmo tempo em que reforça, para nós, a permanência de muitas das formulações poéticas feitas pelos gregos.
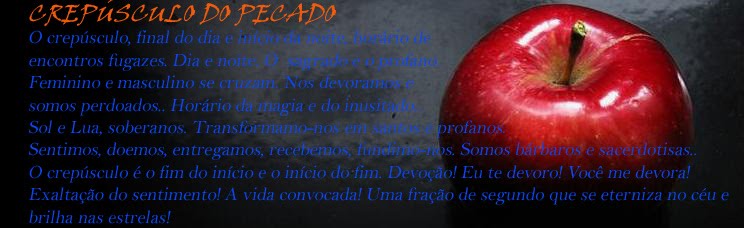


Nenhum comentário:
Postar um comentário