Pitágoras
A transição da Idade do Ferro para a Idade do Bronze ou, em outras palavras, entre o II e I milênios, ou entre o reino despótico e a cidade, vem sendo há muito fonte de acalorado interesse dos pesquisadores, que passaram a refletir sobre as transformações pelas quais o número passou no seio dessa gigantesca mutação. Como ponto de partida, é necessário lembrar que os escribas aqueus dispunham de um sistema numérico extremamente elaborado, com base no 10, com sinais simples: a unidade era transcrita com um traço vertical, a dezena, com um traço horizontal, a centena, com um círculo. Esse sistema decimal não impedia que pesos e medidas tivessem base 12, segundo uma concepção sexagesimal tomada de empréstimo aos babilônios. Assim, os gregos das cidades continuariam a contar com base no 10 e a pesar e a medir com base no 12. Dispor de uma escritura numérica que permitisse manter o registro de transaçõescomo entradas, saídas e pagamentos era indispensável à administração levada a efeito pelos escribas – cujas tabulas eram não mais que inventários -, e, apesar de suas inevitáveis imperfeições (a escritura dos numerais não se fazia segundo a posição dos algarismos e não permitia anotar o zero), era um sistema que tornava possíveis a adição e a subtração – o que não eliminava as dificuldades dos escribas: descobriu-se que até eles erravam contas.
Por volta do ano 800, uma nova Grécia sai da idade das trevas. Nova não só pelo progresso prodigioso da metalurgia do ferro, das aglomerações, das trocas, dos conflitos, mas por sua presteza em produzir todo um novo pensamento – passível e aberto à discussão, aceitação, negação, ao aprofundamento e aperfeiçoamento. O número, essa ferramenta do pensamento que permite mensurar, classificar, comparar, é um dos elementos determinantes da nova forma de aprender a realidade. Uma estrutura de círculos concêntricos vem ocupar o espaço, na tradição indo-européia: na base, os gêneos (famílias patriarcais), depois as fratrias (confrarias), e em seguida as tribos e finalmente a polis (cidade).
Era suficiente pertencer a determinado gêneo para estar imediatamente integrado a uma estrutura social igualitária na aparência. A construção de um aglomerado humano como a tribo é fator da civilização; este parece indicar certa geometrização do grupo, no qual cada um ocupa seu lugar e participa dos direitos e deveres definidos pelo nomos (leis, constituições, costumes) da cidade. Existe aqui um componente numérico não menos evidente: as 12 fratrias (cada uma era um terço de uma das quatro tribos) eram fraternidades paralelas; quanto às tribos, eram em número determinado, mas não imutável. Os antigos costumavam dizer que, em geral, as cidades dóricas tinham três tribos, as jônicas, quatro: assim se opunham Esparta e Atenas, por exemplo. Não se trata no entanto de uma constante imutável. Em determinado momento de sua história, Corinto, a dórica, tinha oito tribos e Mileto, a jônica, seis. Na verdade, as tribos eram instrumentos com os quais se resolviam problemas de integração: o mais claro exemplo é o de Sícion, onde foi necessário acrescentar às três tribos dóricas uma quarta, para incorporar à cidade famílias e indivíduos que não fizeram parte do povoamento inicial e que, ao mesmo tempo, não podiam ser eliminados, sob pena de desencadear graves problemas sociais.
O tirano Clístenes de Sícion que, como tirano, tinha de conduzir uma política populista, contentava-se em brincar com nomes de tribos – desvalorizando as três mais antigas com infames vocabulários: asininos, bácoros, suínos. É suficiente recorrer ao vocabulário para acentuar a evolução humana no sentido democrático, o que mostra a importância da hierarquia tribal. Porém, de nenhuma outra forma o jogo numérico das tribos se tornou mais evidente e completo do que com Clístenes, o Ateniense, neto do tirano de Sícion. No final do século VI a.C., ele realizou uma completa reforma, com o objetivo – e férrea determinação – de unificar e fundir o corpo social. Ele não suprimiu as quatro tribos gentílicas, baseadas em laços de sangue, permitindo que sobrevivessem sob direção do respectivo “rei da tribo”. Elas se limitavam a seu papel religioso, mas Clístenes criaria mais dez, cada uma constando de três trítias ou áreas (lateral, interna e citadina), daí os distritos distintos – que permitiam não só considerável miscigenação como também autoridade e influência dos nobres privilegiados sobre seus pobres vizinhos camponeses. As trítias, por sua vez, subdividiam-se em demos, numa estrutura que pretendia diluir a influência local das famílias poderosas, abolir o caráter tribal da sociedade e imprimir-lhe características de cidade.
A REFOMA DE CLÍSTINES
Essa reforma, consagrada pelo oráculo de Delfos, foi um momento essencial da história arcaica de Atenas: um “amálgama” altamente favorável ao estabelecimento, várias décadas depois da democracia, cujas raízes repousam na ação de Clístenes. Nesse processo, a palavra chave é isonomia (igualdade de todos perante a lei), e o prefixo iso, que define a igualdade de condições, corresponde a profundas reivindicações. Todas as instituições têm como modelo um sistema cuja base é 10 e 15 – por exemplo, dez estrategos (na Grécia antiga, general superior ou generalíssimo) ou um conselho de 500. É nítida a influência pitagórica nesse afã de usar o número na reforma do Estado. O número oferecia um operador facilmente tangível: Sólon determinara quatro classes censitárias para Atenas, que por muito tempo funcionariam como controladoras da fortuna de cada cidadão: no ano seguinte à tentativa tirânica do arconte Damásio (580), deu-se a eleição de dez arcontes (e só havia nove) com a finalidade de estabelecer o equilíbrio entre cinco eupátridas (aqueles que tinham bons pais, nobres), três camponeses e dois artesãos. Mas a reforma de Clístenes unia uma transformação radical das tribos com o advento dos número 5 e 10, tão importantes na doutrina pitagórica e opostos aos 12 jônicos da Ásia, habituados a contar com base nele. Faz-se necessário estender estas reflexões sobre o número ao corpo social.
O número transformou-se em instrumento inflexível de controle social. No calendário, por exemplo: a partir de 776 a.C., as Olimpíadas começaram a ser contadas quadrienalmente e passaram a ser a base do cômputo internacional entre os gregos; na moeda, especialmente – tomada de empréstimo a seus inventores, os soberanos da Lídia -, que não só regula as trocas comerciais como também se revela um instrumento incomparável ao equilíbrio social. Vale lembrar que o nome grego para a moeda, nomisma, pertence à mesma família de nomos, lei, e Nemo, distribuir. Arquitetos e escultores inventaram os cânones, isto é, as proporções numéricas inscritas em seus templos e estátuas. É muito bonito o histórico da palavra cânone (ou Cânon) para não ser lembrado aqui: ela vem de canna, “caniço”, e se aplicava no início às regras da madeira, instrumento usado em tantas profissões relativas à construção, antes de designar de forma abstrata o conjunto de regras numéricas da composição – simetria, por exemplo – ou dos modelos plásticos da beleza arquitetônica e do valor artístico. Quanto mais descendente for a viagem no tempo, mais os cânones se sofisticam. Eles apareceram muito cedo. Desde o século VIII já se falava de templos de 100 pés de comprimento (hecatompeda).
No século V apareceram os famosos “refinamentos gregos” - dos quais o Pathernon é um exemplo clássico – antes de serem elaborados os cálculos místicos sobreo número áureo. Os artistas plásticos investiam muito na medida, ao inovar em relação a seus predecessores, como fez o escultor Lisipo (390 a.C.), que o de seu antecessor Policleto (c. 480 a.C.?), que aplicara às suas obras suas teorias sobre sobre proporções por ele codificadas em seu Cânon, exercendo grande influência na estatuária grega.
Na Grécia e em tantas outras sociedades arcaicas o verso precedeu a prosa. A unidade básica da poesia é o pé, ou metro, que serve para compor o verso. Aqui, o vocábulo é o foco da atenção, quanto ao metro, métron: é a medida; trata-se de vocábulo indo-europeu, cuja origem é perceptível quando comparado ao mati, do sânscrito (de mesmo significado), e ao nome da deusa da inteligência e da astúcia, Métis. A expressão do conteúdo semântico da poesia se acha portanto na dependência do número: uma invenção da inteligência. Só ela é capaz de introduzir as convenções numéricas que dão ao pé, ao verso e mais tarde à estrofe e morfologia repetitiva sem as qual não existe poesia nenhuma.
Ora, existem duas métricas no mundo grego arcaico, uma épica e outra lírica. A primeira é a de Homero – como também de Hesíodo – que canta o nascimento dos deuses e os trabalhos dos homens, e os hinos homéricos compostos nos grandes santuários para celebrar a vida, as provações e as glórias das divindades aí cultuadas. O verso de Homero tem 6 pés (hexâmetro), e é chamado de dáctilo, pois o quinto dos 6 pés deve ser obrigatoriamente um dáctilo. Este é definido por convenções na alternância, segundo ritmos predeterminados, de sílabas breves e longas, estas últimas contadas em dobro.
Possivelmente no século VII a Grécia faz desabrochar outra poesia, o lirismo. Era uma das grandes expressões de uma sociedade em plena explosão de criatividade. É uma “nova poesia”, muito mais variada, capaz de múltiplos desdobramentos, combinando e manejando pés mais complexos, mais heterogêneos, e cuja métrica abre novos horizontes aos jogos numéricos da escansão.
Tratamos aqui da função do número como elemento constitutivo e regulador do tecido social, sejas nas instituições, seja na poética. Resta a matemática, da qual o número é um dos subconjuntos essenciais. Sem querer abordar o tema apaixonante de suas relações com a estrutura da polis, lugar do livre intercâmbio da palavra, sujeita a regras, em cujo âmbito os interlocutores devem convencer-se mutuamente sem tentar impor tiranicamente seus pontos de vista, vamos concluir com uma bela citação do filósofo Maurice Caveign: “ A matemática grega, que trouxe métodos demonstrativos para a ciência universal, é assim filha da cidade, sendo então estreita a correlação entre a polis e o logos, duas formas incontestáveis da originalidade grega”.
ETIMOLOGIA DE ALGUMAS PALAVRAS
Aritmética: arithmétikê, ciência dos números (arithmós: número)
Só, único, isolado: monos. Exemplos: monólito; na linguagem científica internacional: monômero (entre outros significados, insetos cujos tarsos têm uma só articulação) e mononucleose; a partir do século XVI: monopólio; XIX: monoteísmo, monotonia.
Dois: -di. Exemplo dígamo (casado duas vezes)
Três: -tri. Exemplos: tríade; pelo latim: triângulo
Trígono, Triângulo: trígonos; gonía: ângulo
Quatro: tetra. Tetrágono: quadrilátero.
Cinco: penta. Exemplos: pentadáctilo: pelo latim: pentágono, pentagrama.
Seis: Hea ou hex. Exemplo: Hexágono.
Sete: Hepta. Exemplos: heptágono, heptaedro.
Oito: okta. Exemplos: octaedro, octangular.
Nove: ennea. Exemplo: eneágono.
Dez: deka. Exemplo: decálogo, decassílabo
Onze: hendeka. Exemplo: hendecassílabo (verso de 11 sílabas).
Cem: Hekatón. Exemplo: Hecatombe
Dez mil: myría (que também significa muito). Exemplo: miríade.
Um milhão: Mega. Exemplos: Megahertz, megafone, megalomania
Um milésimo de e pequena parte: micro. Exemplos: micróbio, microcéfalo.
Um milionésimo de (nannós) (anão). Exemplos: nanismo, nanico, nanocéfalo.
GLOSSÁRIO
Aqueus: A mais antiga das famílias étnicas gregas. Vindos do norte, durante o século XX a.C., criaram uma civilização rica e poderosa, que atingiu o apogeu entre 1.400 e 1.200 a.C.
Tábula: Pequena placa de madeira, marfim ou metal, escavada para conter a camada de cera na qual os antigos escreviam
Gêneo: Sufixo de origem grega que significa, entre outras coisas, “nascido em certo lugar ou em determinada condição”.
Fratria: Na Grécia Antiga, cada um dos grupos em se subdividiam as tribos atenienses e de outras cidade da Ática.
Tribo: Cada uma das partes em que se dividiam algumas nações ou povos antigos: grupo étnico unido pela língua, pelos costumes e que vive em comunidade.
Polis: Cidade em grego, do qual o sufixo pole se acha presente em diversos vocábulos como acrópole, metrópole, necrópole.
Número áureo: Posição que determinado número ocupa em um ciclo lunas de 19 anos. Os gregos o gravaram com letras de ouro nos monumentos públicos.
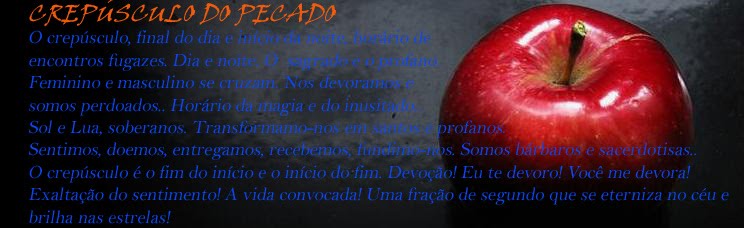

Nenhum comentário:
Postar um comentário